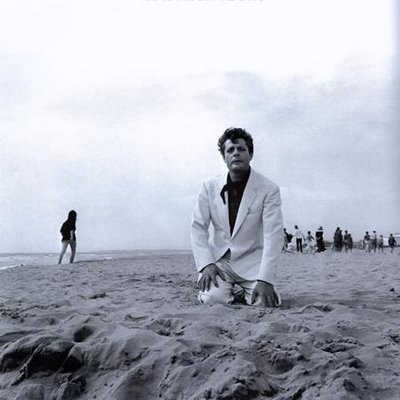Verdade seja dita: não é possível, ou sendo, não é totalmente exacto compartimentar a filmografia do mestre italiano desta forma tão estrita, já que outros filmes de que aqui falarei, como
Roma e
Satyricon, também muito devem ao animado e colorido sono e à personalidade do director. Esses, porém, tratá-los-ei a propósito de outra temática.




Em
Os Inúteis acompanhamos as vidas de cinco jovens adultos cuja participação na sociedade não se pode sequer reduzir a uma busca pela diversão, já que essa mesma é, em si, frustrada, restando-lhes os caminhos pelas estreitas e escuras ruas da deambulação eterna. É assim que começam e é assim que Fellini os trás ao ecrã por várias vezes, em ruas desertas, escuríssimas, cujo negro contrasta com fortes focos de luz vinda dos antigos candeeiros, seguindo sem destino, gargalhando sem piada, reflectindo sem tema. Da mesma forma que os absorvem e envolvem as paredes dos antigos prédios que ladeiam e limitam essas ruelas, também assim a vida lhes vai concedendo poiso - de forma tristemente solitária, com enganadores focos de jubilo. É isto que se volta a sentir no contraste entre o silêncio e a tranquilidade quase assustadora que se sente de cada vez que uma personagem sai à rua e a exuberância, o barulho e a escandalosa euforia de cada festim que acontece.
De todas as personagens, o maior símbolo da vivência sem propósito, da existência sem valores, da decadência moral (ainda assim, um retrato longe de ser perturbantemente
nietzschiano) é Fausto, um homem que engravida uma inocente, bela e jovem rapariga (Sandra) e que, ao mesmo tempo que parece viver com ela uma feliz relação de marido e mulher, enquanto procura emprego e durante o tempo em que sustém um, não consegue, por meio algum, resistir à luxúria, à curiosidade mórbida de umas novas pernas de mulher, nem que, para isso, tenha de hipotecar a sua felicidade e a dos outros (dos amigos, do pai, da mulher, do filho).
Para eles, a vida não muda e não mudará nunca. A única excepção é Moraldo, irmão de Sandra, que até aos últimos momentos da película em nada se opõe aos devaneios espirituais e carnais do cunhado, à sua completa indecência para com a o mundo honesto (ajuda-o a roubar o antigo patrão) ou à sua caminhada sem destino à vista. Decide que assim não poderá continuar e acaba por partir numa viagem para um novo começo, para uma nova vida, submetendo-se à triste despedida do seu único amigo interessado pela vida (o pequeno Guido), num brilhante momento de cinema autobiográfico em que, à janela do comboio, se ouve a voz de Fellini discorrendo da boca do personagem,
"Ciao, Guido.".
Durante cerca de 30 anos, Federico Fellini registou num pequeno diário todos os sonhos que foi tendo, através de palavras, desenhos, pinturas - aí se encontravam representados, descansando tranquilamente, à espera que lhes dessem vida, todos os seus mais íntimos, bizarros e excêntricos desejos, paixões, medos e terrores. É a partir destas mágicas folhas, que hoje em dia se encontram compiladas na obra "Federico Fellini - The Book of Dreams" (ainda sem tradução portuguesa), que o mestre vai, a partir da década de 60, criar algumas das mais bonitas obras de arte que ainda hoje existem, belas composições e concatenações entre a poesia do cinema, da música, da pintura, da fotografia e da arte plástica.











Em
Oito e Meio assistimos a uma incrível explanação e representação do inexplicável e irrepresentável drama da criação artística, enfrentado por qualquer músico, escritor, pintor ou cineasta numa ou em várias alturas da sua vida.
O drama consiste exactamente em não conseguir gerir uma mente cheia de tudo mas inundada num nada agoniante. Uma confusão de pensamentos, reflexões, imagens, ideias, sons, cenários, situações que se emaranham uns nos outros, que logo de seguida tentam seguir o seu caminho individualmente, que voltam atrás antes de começarem a seguir para a frente, que começam a meio e que não acabam no fim.
É precisamente isto que Fellini nos mostra e é exactamente com esta sensação que nos deixa. Acompanhamos Guido (em magistral interpretação de Mastroianni), um realizador de cinema que vive no extasiante mundo do sucesso artístico, mas que, desta vez, não sabe o que fazer. Por entre cenários reluzentes, ricos e espalhafatosos, olhando e conhecendo estranhas personagens, umas verídicas outras nem tanto (incluindo a mulher e o produtor), que lhe esmagam o espírito com a pressão em relação a um novo filme, fantasiando e desejando sobre antigos amores que nunca chegamos a saber se alguma vez teve ou se apenas vem caprichando desde sempre, assistindo a deslizes sobre cordas, rodopios sobre rodas, pernas, braços, sorrisos, cantos, luz, muita luz, tudo é drama, tudo é confuso, tudo é aflitivo e tudo parece significar o fim de uma carreira. É inevitável chegarmos ao ponto em que não sabemos o que se está a passar e o que faz parte do dilema da nossa espiritualmente sofredora personagem, do seu sonho, do seu desorganizado imaginário, para o qual contribui a serena e pautada voz do actor principal, que muitas vezes nos acompanha em tom quase documentarista, um narrador participante, enquanto o som do que se passa no filme baixa subtilmente, levando-nos a mergulhar ainda mais profundamente numa consciência que não é a nossa.
Até à cena final ... em que, subitamente, vários actores, vestidos com estranhos fatos, caminham, correm e dançam, atrás do realizador. Finalmente conseguiu harmozinar a orquestra e está pronto a comandar o barco. Brilhante, um dos maiores filmes que já vi.














Com tradução para "Eu lembro-me",
Amarcord é a mais literal das autobiografias do autor. É, uma vez mais, com um argumento aparentemente desconexo, recheado de eventos tanto bizarros quanto cómicos, através de uma atmosfera incrivelmente harmoniosa, luminosa e nostálgica que Fellini nos brinda com as mais estranhas personagens, certamente marcantes na sua infância (o adolescente que mais nos aparece é baseado num amigo de infância), e que o continuam a assombrar nos seus sonhos. Desde um avô que balança entre o velhinho confuso e o folião, um pai autoritário, uma mãe defensora de um filho, uma prostituta louca e ninfomaníaca, um tio doido varrido (
"Io vogglio una donna!"), uma peixeira gordíssima, retratada como uma autêntica sedutora, terminando na bela e desejada Gradisca, todas as falas, relações e sentimentos nos aparecem como uma tentativa do autor de nos comunicar algo sobre si e sobre os seus primeiros anos.
Nunca esquece a sátira ao
Il Duce ou aos métodos de educação da altura - na escola e em casa. Tudo se passa no espaço de um ano e assistimos à rotação das quatro estações (
"When the puffballs come, cold winter's almost gone."). A este retrato da inevitabilidade cósmica, alia-se um esboçar de vários eventos cómicos sem ligação, que não se conseguem encadear logicamente, que não constroem uma estória, exactamente porque a vida é assim - uma sucessão de eventos derivados do destino, do efeito borboleta, da sorte, dos outros, muito mais do que um encadeamento pragmático de opções. E, como todas as vidas, assim foi a vida de Fellini.


 A primeira conta a história de dois homens que encontram um armário banal, cuja única particularidade é ter um espelho incrustado, que se envolvem numa série de peripécias para tentar vender o seu achado, sempre sem sucesso, acabando por sofrer castigos físicos frutos do puro azar. Tem um certo tom cómico mas o drama é especialmente evidente na cena final, um paralelismo com a cena inicial (algo que se viria a tornar algo trademark, como as mãos a tocar piano, no início e no fim do The Pianist), em que voltam ao mar, para deixar o armário, acabando por desaparecer os dois, de repente, debaixo de uma onda. Adianto que estes breves minutos nos brindam com uma cena de puro génio cinematográfico, entre outras também muito boas: um homem está a ver-se ao espelho do armário - parece que finalmente alguém lhe descobriu uma utilidade. Porém, logo a seguir, mudam o armário de sítio e por trás do armário estava outro espelho - o homem não reage e continua simplesmente a ver-se ao novo espelho.
A primeira conta a história de dois homens que encontram um armário banal, cuja única particularidade é ter um espelho incrustado, que se envolvem numa série de peripécias para tentar vender o seu achado, sempre sem sucesso, acabando por sofrer castigos físicos frutos do puro azar. Tem um certo tom cómico mas o drama é especialmente evidente na cena final, um paralelismo com a cena inicial (algo que se viria a tornar algo trademark, como as mãos a tocar piano, no início e no fim do The Pianist), em que voltam ao mar, para deixar o armário, acabando por desaparecer os dois, de repente, debaixo de uma onda. Adianto que estes breves minutos nos brindam com uma cena de puro génio cinematográfico, entre outras também muito boas: um homem está a ver-se ao espelho do armário - parece que finalmente alguém lhe descobriu uma utilidade. Porém, logo a seguir, mudam o armário de sítio e por trás do armário estava outro espelho - o homem não reage e continua simplesmente a ver-se ao novo espelho.